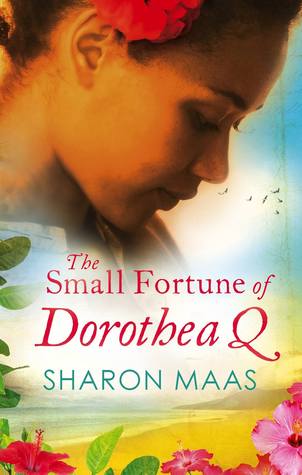
Quem disser que nunca julgou um livro pela capa é um grande mentiroso. Por mais que nos esforcemos, é difícil não nos deixarmos influenciar pelo trabalho de manipulação minuciosamente pensado (ou não) pelo editor para nos convencer (ou não) a consumir o produto livro. No caso de A pequena fortuna de Dorothea Q, um excesso de clichês, uma horrorosa combinação de amarelo, azul e cor de rosa, bem como uma diagramação digna de “romances de mulherzinha” quase iam me fazendo desistir. Mas digamos que não é assim tão fácil encontrar um livro vindo originalmente da Guiana, de modo que, mais do que qualquer outra coisa, o romance da escritora guianesa Sharon Maas me venceu sem convencer. Falou mais alto a falta de opção. E que bom!
Se não será o próximo Prêmio Nobel da Literatura (se bem que nunca se sabe), A pequena fortuna de Dorothea Q é um livro cativante, atraente e divertido. Mais que um romance monofocal, trata-se de uma pequena saga familiar que acompanha três gerações de mulheres da família Quint: a matriarca Dorothea, sua filha Frederika (Rika) e neta Inky. Por meio de uma trama não cronológica, acompanhamos os momentos mais importantes do clã guianense, desde a bucólica Georgetown do início do século XX, até a frenética cidade de Londres nos dias de hoje. No centro da trama encontra-se um pequeno tesouro familiar: um selo extremamente raro, conhecido como o “One Cent Magenta”, emitido na capital da Guiana em 1856, e conhecido globalmente como o selo mais caro do mundo.
Embora não se trate de forma alguma de um sentimento homogêneo, boa parte do tempo temos a impressão de estar lendo um dos romances antigos de Isabel Allende. É certo que o carisma das personagens principais parece que se vai perdendo a cada nova geração, chegando mesmo a ser difícil se relacionar com os dilemas adolescentes da – tirando a curiosidade intercultural – inócua Inky. Mas estas falhas são largamente compensadas por um exotismo bem temperado, por uma trama bem cozida e por um agradável vislumbre desse país tão próximo e ainda assim tão distante, cujas paisagens poderiam ser as mesmas de Jorge Amado, mas cujo ambiente sócio-político-cultural distingue-se em quase tudo da realidade brasileira.
Se é verdade que o excesso de melodrama pode incomodar qualquer leitor menos inclinado à telenovela, a história ainda assim permanece interessante até a última página, e algumas de suas cenas eventualmente permanecerão por um bom tempo no imaginário do leitor. Em suma, pode-se dizer que A pequena fortuna de Dorothea Q é o livro perfeito para aqueles longos dias passados na espreguiçadeira durante as férias de verão, perfeitamente inadequados a um Proust ou a qualquer outra leitura intelectualmente mais exigente, mas nos quais ainda assim ansiamos por um pouco de poesia.
Título original: The Small Fortune of Dorothea Q
País: Guiana
Idioma original: inglês
Ano de publicação: 2014
Edição em português: não há
Edição inglesa: Bookouture (ISBN 978-190-9490-58-1)
Número de páginas: 480









